2009 marcou o duplo centenário do nascimento de Edgar Allan Poe, escritor americano que morreu na miséria, mas cuja obra influenciou toda a literatura moderna e é hoje muito respeitada.
Poe reuniu em si uma espécie de vórtice criativo, do qual emergiram as bases de toda a ficção fantástica, qual seja, a ficção científica, a fantasia e o terror, além do romance de mistério e investigação. Na edição referente a 2009, o Anuário prestou ao escritor os devidos tributos, com um artigo sobre sua vida e uma resenha de O relato de Arthur Gordon Pym, o único romance escrito pelo ele.
Como Poe tem um grande contingente de fãs, isso facilitou o trabalho de Maurício Montenegro e Ademir Pascale em reunir 22 textos de autores de todo o Brasil nesta antologia comemorativa que se pretendia fosse publicada em 2009, mas acabou saindo no ano seguinte.
O conhecido escritor carioca Miguel Carqueija, autor de Farei meu destino (Giz, 2008), assina o prefácio, em que apresenta a vida e a obra de Poe. Ele também participa com um conto, "O quarto caso de Dupim", um texto simples, elegante e divertido no qual o detetive criado por Poe ajuda a polícia francesa a encontrar um empresário americano desaparecido em Paris. Um ótimo contraponto ao clima predominantemente funesto da antologia.
O volume também traz trabalhos dos dois organizadores e de Alex Lopes, Alícia Azevedo, André Catarinacho Boschi, Deborah O'Lins de Barros, Dimitry Usiel, Duda Falcão, Frank Bacurau, Georgette Silen, Gil Piva, Jocir Prandi, Kathia Brienza, Luicana Fátima, M. D. Amado, Mariana Albuquerque, Márson Alquati, O. A. Secatto, Ronaldo Luiz Souza, Roseli Princhatto Arruda Nuzzi e Thiago Félix.
Além do texto de Carqueija, também se destacam os contos comentados a seguir, nos quais os autores encontraram uma forma pessoal de homenagear Poe.
"Relíquia", de autoria do professor universitário Duda Falcão, homenageia o conto "O gato preto", e narra a história de um menino curioso que visita uma espécie de show de aberrações literárias. Metalinguagem realizada com talento e sensibilidade poética, num estilo que lembra mais a Ray Bradbury – outro grande mestre da ficção fantástica.
"Um homem afortunado", da funcionária pública e Mestre em Letras Kathia Brienza, embarca numa homenagem a "O barril de Amontillado", contando sobre um professor oportunista que progride na profissão às custas de trapaças. Ao ganhar um concurso de monografias acadêmicas roubando o trabalho de seu rival, sente que chegou ao ápice de sua carreira. Mas nem tudo vai ser sempre como ele deseja. Um ótimo trabalho, saboroso e bem realizado.
Mariana Albuquerque é um nome conhecido do fandom: médica veterinária, participou de vários fanzines e antologias, e publicou os livros Coração de demônio (Writers) e O pássaro e o rochedo (Nativa). Ela assina "A máscara de Vênus", um texto muito curto que homenageia "A máscara da morte rubra", sendo a única ficção científica em todo o volume. Conta o que acontece ao que resta da civilização, refugiada na Antártida depois do fim do mundo. O conto que tem a melhor primeira frase da antologia: "No equador, os oceanos ferviam". Muito inspirador.
"Inferno no circo" é um conto simples e efetivo, dentro do que se pode esperar de uma homenagem a Poe, com a bem mais que emocionante estreia no circo do orangotango de "Os crimes da Rua Morgue". O autor, Jocir Prandi, é gaúcho de Vacaria e participou de várias antologias. Seu primeiro livro é Inspiração à beira do abismo (Evangraf).
"Louco, eu?", de Ademir Pascale, baseia-se no conto "O coração delator" e conta a história de um psicopata que acredita ver demônios e falar com animais. Apesar de previsível, é um trabalho bem redigido e tem um momento brilhante, quando o protagonista dialoga com fantasmas dos autores dos livros que lê.
Fecha a antologia o texto "Memórias póstumas de Edgar Allan Poe", de Roseli Princhatto Arruda Nuzzi, que não é exatamente um conto, mas uma biografia romanceada na qual um Poe desencarnado narra uma série de fatos de sua vida que podem ou não ser verdade, pois a credibilidade foi comprometida pela mistura com ficção.
Os demais trabalhos seguem uma narrativa algo recorrente, centrada na primeira pessoa e imitando, às vezes bem, o estilo de Poe, mas que resulta em histórias previsíveis e de pouco brilho próprio.
O livro é bem editado, com erros mínimos de revisão, e são homenageados vários outros contos do "Poeta Louco". É justamente esse diálogo com a obra maiúscula de Poe que "contamina" a antologia dando-lhe contornos nobres e clássicos.
Para quem conhece o trabalho de Edgar Allan Poe, a leitura de Poe 200 anos é bem divertida. Contudo, quem não o conhece deve ler os textos originais do autor antes de embarcar nesta verdadeira tietagem literária, senão a maior parte da graça será perdida.
— Cesar Silva








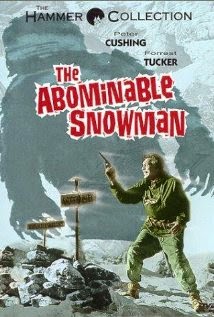

.jpg)

.jpg)

.jpg)
.jpg)



