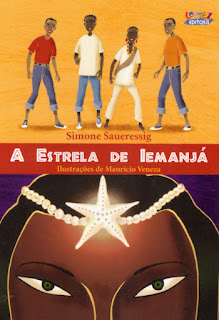Roma Eterna
(Roma Eterna), de Robert Silverberg. Mem Martins: Publicações Europa-América,
coleção Nébula, n.101. Tradução de Susana Serrão, 352 páginas, 2006.
O escritor americano Robert
Silverberg tem entre suas principais características a versatilidade temática.
Já escreveu sobre todos os assuntos importantes da ficção científica, e na
maioria das vezes trazendo um ganho de qualidade e uma visão muito particular,
ainda que não necessariamente original.
Assim não é
surpreendente que desde fins dos anos 1980 do século passado ele tenha entrado
na seara da história alternativa, um dos subgêneros que vem ganhando cada vez
mais adeptos, tanto entre escritores como entre leitores, especialmente nos
Estados Unidos.
E Silverberg
retorna à era antiga para tentar responder uma das mais candentes perguntas
entre os fãs de história alternativa e – por que não? – também entre
historiadores profissionais: Como seria o mundo até os nossos dias se o Império
Romano não tivesse terminado?
Publicado em
2003 nos Estados Unidos, Roma Eterna é o que se costuma chamar de
romance fix-up, isto é, aquele que reúne um conjunto de histórias
interligadas dentro de um mesmo universo ficcional. Se partirmos para uma
classificação mais precisa ou acadêmica, então, não temos em mãos um verdadeiro
romance. Mas deixemos tal discussão para os teóricos literários. No caso desta
análise o que importa é o conteúdo e a maneira como Silverberg tenta responder
a pergunta acima, narrando de forma ambiciosa e despojada dois mil anos de
história.
De início
aponto também a surpreendente qualidade da tradução do livro. Acostumado com
tantas traduções ruins dos livros portugueses de ficção científica, este
aspecto certamente merece ser registrado, assim como também a bela ilustração
de capa.
Vale notar que
Roma Eterna fala não só da perenidade do Império Romano, mas também de
seu tamanho. Estamos diante de um império que não só logrou continuar, mas que
ainda se expandiu, um Estado mundial único. Existem várias outras histórias
alternativas sobre a permanência de Roma, mas nem todas seguem esta opção. Como
por exemplo, a trilogia de Kirk Mitchel (Procurator, 1984; New
Barbarian, 1986 e Cry Republic, 1989), no qual o Império chega aos
nossos dias, mas conservando apenas um pouco mais de sua extensão territorial.
O livro
obedece a uma seqüência de eventos. Mas é curioso observar que as histórias
foram escritas fora da cronologia. Desta forma, a noveleta que encerra o volume
foi justamente a primeira escrita, em 1989. Este fato poderia sugerir certo
afrouxamento entre as situações de uma história e outra, mas o autor teve o
cuidado de não deixar pontas soltas e nem ser demasiadamente repetitivo em
citar e contextualizar fatos e personagens de um texto para outro.
Silverberg
abre com um “Prólogo”, que certamente foi escrito para sugerir caminhos dentro
da obra, mas de saída causa impacto, ao informar que o êxodo do povo israelense
do domínio egípcio fracassou... O leitor percebe a consequência disso? De forma
sutil e rápida, o autor simplesmente exclui da história a religião posterior,
que teria o maior número de fiéis e que foi uma das possíveis motivadoras para
a própria queda do Império em nossa linha temporal.
Após esta
introdução fugaz e decisiva, temos a primeira história propriamente dita, “Com
Cesar no Submundo”. Estamos em 529 D.C. (ou melhor em 1282 A.U.C. – Ab Urbe
Condita, a partir da fundação da cidade, exatos 753 anos antes da era Cristã).
O Império Ocidental atravessa um momento de crise, tentando negociar uma
aliança militar com o Império Oriental para evitar iminentes invasões de
bárbaros germânicos na fronteira norte. O Imperador está muito doente e há
incerteza sobre qual dos dois filhos realmente assumirá em caso de sua morte. A
trama conta a chegada de um enviado do Imperador de Constantinopla para acertar
os detalhes do acordo, que inclui o casamento de sua filha com o sucessor do
trono romano.
O enredo
político é saboroso, mas o que empolga é o contexto social do chamado submundo
romano. Quer dizer, o que acontece nos subterrâneos da cidade, habitados por
toda a sorte de artistas, vagabundos, místicos e prostitutas, aqueles que vivem
uma vida ‘fácil’, fora das responsabilidades formais da sociedade.
Pois sob Roma
há um enorme e profundo sistema de túneis e esconderijos, criados originalmente
para proteger a elite política de uma eventual invasão. Mas como tal não
acontece há séculos, o local passou a ser habitado por toda sorte de figuras. E
o embaixador de Constantinopla faz questão de conhecer estes prazeres. E um dos
irmãos que pode aceder ao trono tem a missão de guiá-lo, antes que a própria
sorte do Império seja decidida. Pois é a partir desta história é que se tem o
chamado ponto de divergência, ou seja, onde a história teria se alterado e
permitido que o Império não sucumbisse à sanha bárbara. Silverberg capricha e
torna este texto uma das melhores narrativas de todo o livro, o que permite que
o interesse do leitor em virar a página para a próxima história esteja mais do
que garantido.
E não haverá
decepção com a próxima história. Em “Um Herói do Império”, damos um salto de 83
anos. Sob o governo de Maximiliano III, o Império do Ocidente – aliado ao do
Oriente – derrotou as hordas bárbaras, fortaleceu sua política interna e
prosperou economicamente. Esta história é importante porque explica como o
islamismo jamais surgiu. O herói do título é um ex-auxiliar do Imperador
Juliano que perdeu prestígio e foi exilado para o Oriente Médio.
Sem
compreender muito bem a razão de sua desgraça, nem bem o que faria em tão
distante lugar, Leandro Cérvulo conhece um sujeito carismático e com uma
estranha pregação religiosa. Acredita em uma única deidade e pretende espalhar
sua palavra aos povos do deserto. O romano antevê uma oportunidade de fazer alguma
diferença aos olhos do Imperador, ao interpretar a pregação de Mahmud como algo
subversivo e potencialmente perigoso aos interesses imperiais. Elimina um líder
em seu nascedouro, evita o surgimento de
uma das principais religiões, a segunda grande crença monoteísta. Contudo e
ironicamente, o romano é um herói anônimo, pois ele não tem como gozar de um
reconhecimento de algo que não se tornou realidade.
O prólogo e
estas duas primeiras histórias dão um alicerce para explicar como o Império
Romano permaneceu. Mas é a partir da terceira que Silverberg começa a nos
mostrar como ele se expandiu. Para isso o livro dá um grande salto histórico em
“A Segunda Vaga”. Para usarmos o calendário de nossa linha temporal –
sabiamente Silverberg usa a A.U.C. em seu universo –, estamos em 1108 dC. Sob o
governo do Imperador Saturnino, Roma controla toda a Europa e a maior parte da
África e da Ásia.
Estamos no
clima de uma segunda tentativa de invasão de Nova Roma, as terras a oeste do
Mar Oceano. A primeira tentativa havia sido um fracasso e esta narrativa dá
conta de colocar em detalhes os planos, estratégias e a uma nova invasão
propriamente dita. Os romanos ficam perplexos ao descobrirem não um povo, mas
toda uma civilização, com grandes cidades e até mesmo exércitos. Tal como na
primeira tentativa, Silverberg narra o fracasso da empreitada militar romana,
mostrando que mesmo um Império tido como invencível em termos militares, também
sofria derrotas significativas, vez por outra.
Curioso notar
é como os romanos são expulsos do que eles chamam pretensiosamente de Nova
Roma: menos do que a força militar numericamente maior dos maias, foi uma
tempestade poderosíssima que adiou os planos romanos por mais uma geração. Sim,
os romanos conquistariam Nova Roma – como é explicado de passagem numa das próximas histórias –, mas esta é uma
narrativa específica que o criador deste universo ainda está por nos contar.
Roma entrou em
grave crise financeira por causa das duas aventuras militares malsucedidas.
Estamos em 1198 dC, em “À Espera do Fim”. Nesta história, o império ocidental
está em seus estertores, governado por um imperador fraco e incompetente.
Constantinopla tira proveito da situação e cerca a cidade romana,
conquistando-a. Assim, os gregos assumem o comando do império, numa situação
algo chocante mesmo para o leitor. Afora esta troca de comando, o que dá sabor
à história é o ponto de vista pelo qual ela é contada. Antipater é o
responsável por traduzir os comunicados dos planos militares e transmitir ao
imperador as notícias sobre a iminente derrocada da cidade romana. Silverberg
inclui até um drama pessoal de Antipater, casado com uma descendente de gregos,
que temia ser considerada uma traidora pelos novos dominadores.
O reinado
grego dura duzentos anos, um período demasiado mesmo para os padrões ‘eternos’
dos romanos. Contudo, estamos em 1453 dC, com os romanos novamente no poder,
reunificando asa duas capitais imperiais, por meio de um tratado. Em “O Posto
Avançado do Reino”, é relatada a chegada de um novo procônsul para Venécia, uma
província grega. Aqui o conteúdo político não é afastado, mas a história gira
em torno do romance do novo governante Quinto Pompeu Falco e a bela grega
Eudóxia, que pertencia à uma nobre família da região. Ainda que não seja uma
história destituída de interesse, talvez seja a mais fraca do livro, por
quebrar um pouco o ritmo das grandes intrigas, conquistas e revoluções tão presentes
nos textos anteriores.

A próxima
história nos fala em “Conhecer o Dragão”. Estamos em 1790 dC, já em pleno fim
de século XVIII e o título da história faz uso de uma ambiguidade. Isso porque
nos fala de dois imperadores: Um que está por vir e outro que já foi. Cada um à
sua maneira, verdadeiros dragões, seja no sentido perdulário e corrupto, seja
em termos do conquistador sanguinário. Há um personagem no meio destas duas
figuras importantes, o arquiteto e historiador nas horas vagas, Pisandro. Ele está
em uma ilha mediterrânea, a serviço de César Demétrio, o primeiro herdeiro na
sucessão imperial. O sujeito é alienado e megalômano, com um estilo de vida
parecido com vários imperadores do passado, figuras ao mesmo tempo sinistras e
bizarras, como Caracala e Cômodo.
Pisandro não
tem como recusar os seus pedidos extravagantes de construções de templos e
suntuosos palácios, até porque vislumbra gozar das benesses do poder, quando
Demétrio assumir o trono romano. Ao mesmo tempo, Pisandro tem fascínio pela história
romana e em particular por um dos mais prestigiosos imperadores, o desbravador
de mares e povos longínquos, Trajano VII, que passou a maior parte de seu
reinado em viagens de pilhagens pela Terra, trazendo riquezas econômicas e
culturais incalculáveis, num período que foi cognominado, simplesmente, de
Renascença. Pisandro descobre um diário de viagem do imperador, dado como
perdido, uma peça raríssima e valiosa. E por meio de sua leitura, descobre o
lado sanguinário e cruel de um líder que ele tinha como modelo.
É uma história
um pouco desequilibrada em seu enredo, com cortes abruptos entre o tempo
presente e o resgate do passado, mas ilustra este traço comum da história
romana, a do excessivo culto às personalidades e da aparente contradição de
como uma estrutura política tão poderosa, é ao mesmo tempo institucionalmente
tão fragilizada.
Pois está
última questão está no subtexto das duas próximas histórias, as que constituem
as duas melhores histórias do livro. A primeira delas é “O Reinado do Terror”,
em 1815 dC. Pois estamos sob o reinado de Cesar Demétrio, agora renomeado
Demétrio II. As contas públicas estão deficitárias, o nível de gastos do
imperador excede em muito os impostos. Ao mesmo tempo, algumas importantes
províncias européias se rebelam em movimentos de independência, como a Gália e
a Hispânia. Cabe aos tesoureiros e aos generais controlarem os exageros e a
incompetência imperial.
O Conde
Valeriano Apolinário torna-se um grande líder militar, ao derrotar
definitivamente as inssurreições gálicas e hispânicas. Ao voltar a Roma toma
conhecimento de que também em termos fiscais e administrativos está havendo uma
reação à completa ausência de governo. O líder desta reforma é o Cônsul Laércio
Torquato, um velho amigo de Apolinário, extremamente capaz e firme em suas
resoluções. Em demasia, como se torna cada vez mais notório, pois Torquato
inicia também um programa de expurgos do que ele chama de uma corja corrupta
que se aproveita das megalomanias do Imperador. Uma sombria e eficiente matança
é posta em prática, assustando mesmo a Valeriano, como que a antever o perigo
que tal iniciativa viesse a ter. Pois Torquato consegue subornar os guardas
pretorianos, encarcerando o Imperador e isolando-o das ‘más influências’. Não
contente, edita ordens para o assassinato de figuras eminentes da sociedade
romana e de sua elite política, vários senadores.
Como que num
efeito dominó, Roma passa a viver sob um estado de terror com centenas de
pessoas condenadas à morte, supostamente em nome de uma ‘purificação dos maus
costumes’. A exemplo do Terror que se seguiu à Revolução Francesa, por fim os
próprios heróis e algozes experimentam de suas receitas e acabam sucumbindo.
Termina em terror aquela era que ficara conhecida como a Segunda Grande
Decadência.
A história a
seguir é a novela “Via Roma”, talvez a mais brilhante de todas as escritas por
Silverberg neste universo ficcional, indicada ao Prêmio Hugo em 1995. É uma
clássica história de golpe palaciana, no qual parte da elite política e
econômica do Império aplica um golpe de Estado e simplesmente derruba o
Império, refundando o Estado em uma Segunda República. Por aí já se vê que é
uma história importante, mas afora o aspecto propriamente político, o mais
interessante é a forma e o enfoque em que o texto é elaborado.
Toda a trama
se dá durante a chegada a Roma de um turista britânico, que vem passar as
férias na capital do império mundial. Aporta em Nápoles e é recebido pela alta
nobreza local, pois ele pertence a uma rica família da Ilha. Em uma festa
conhece uma bela ragazza, filha de um cônsul, que o servirá como guia e
amante no caminho que vai de Nápoles até a capital, através de Via Roma, uma
autoestrada moderna, por onde já circula estranhos veículos movidos a motor de
combustão. Estamos em 1850 dC, em pleno desenvolvimento da primeira fase da
industrialização.
“Via Roma” é
uma história bem contada em seus detalhes, da vida dos nobres, bem como da
penúria do povo em geral, numa sociedade milenarmente marcada por uma clara
divisão sociopolítica entre nobres e plebeus. A derrubada do Império se dá de
forma cabal, eliminando não só o imperador mas todos os possíveis herdeiros
naturais – à exceção de um menino que é salvo e exilado em uma distante
província, conforme se verá na próxima história. Restaura-se a República, pelo
menos em termos nominais, e Roma passa a ser governada por um Cônsul, como nos
tempos anteriores a Augusto.
Afora certa
inverossimilhança em como ocorre a queda do império, a esta altura do livro,
não dá para deixar de sentir também um incômodo com a opção do autor em mostrar
uma Roma eterna que, a despeito disso, mantém uma estrutura política quase
imutável e que é sempre bem-sucedida em refrear pela força movimentos
separatistas e impedir uma maior liberdade aos seus cidadãos. E tudo isso
dentro de um arcabouço institucional extremamente frágil, muito dependente do
voluntarismo e qualidade individual do governante de ocasião, o que revela
tanto a força como a fraqueza de tal Estado e seus momentos de glória e
decadência.
Ora, pois
mesmo dentro desta perene estrutura imperialista, seria possível compatilhar o
poder de forma não necessariamente impositiva. Fazendo uso, por exemplo, de
arranjos políticos federativos, já colocados em prática desde tempos anteriores
ao romano, pelos gregos.
Mas Silverberg
não explora tais possibilidades de sistemas políticos mais sólidos, e cita
apenas de passagem um movimento democrático em “Reino do Terror”, que é
rapidamente derrotado. Mas é possível defender esta opção ‘imperial’ por duas
razões principais. Primeiro, porque é uma interpretação de como seria o mundo
não só com o domínio político de Roma, mas também com a perpetuação de seus
valores e sua cultura, o que inibiria, em tese, o surgimento de idéias
filosóficas ou movimentos políticos alternativos. Que, de fato, só ganham força
em nossa linha temporal – ou ao menos ressurgem – a partir do século XV, com
contestações iniciais do Absolutismo e do domínio do cristianismo romano, assim
como as primeiras franjas de liberdade política.
Segundo,
porque este mundo romano criado por Silverberg é em si diferente do real e
talvez esta seja uma causa de sua permanência. Diferente pela simples razão de
que esta Roma jamais conheceu uma religião monoteísta e extremamente influente,
como o cristianismo. Ao politeísmo romano, devidamente permissivo aos outros
cultos não romanos também politeístas, se institucionalizou uma espécie de
paganismo, gradativamente banalizado junto a um materialismo espalhado como way
of life de todo um Império de dimensões globais.
As duas últimas
histórias colocam esta Segunda República Romana na contemporaneidade do século
XX. Primeiro com “Lendas dos Bosques de Vênia”, mostrando como o domínio romano
foi liberalizando e aceitando os costumes dos povos aos quais dominou. Aliás,
esta sempre foi uma peculiaridade dos romanos. Não só dividir para governar.
Mas adaptar-se os costumes alheios, para incluí-los no interior do seu domínio
político.
Estamos em
1897 e a noveleta narra a descoberta daquele menino que poderia ter reclamado o
trono e impedido a restauração da República. Já velho e abandonado é encontrado
por um casal de crianças, mas acaba tendo problemas com um sistema político
eternamente ditatorial e, como tal, impiedoso com qualquer possibilidade real
ou simbólica de ter o seu poder desafiado.
A história que
fecha o livro é – como disse no início deste texto – a primeira escrita pelo
autor. “Rumo à Terra Prometida”, situada no ano de 1970 de nossa linha
temporal, mostra a permanência e sobrevivência do povo judeu. Não mais do que
um grupo étnico exótico e minoritário que viveu por milênios em terras do
Oriente Médio, quase sempre sob o julgo de uma potência estrangeira. Pois é
deste povo, tido como ‘escolhido’, que se faz um empreendimento em busca de
liberdade à procura do Deus único. Nem que seja em outro planeta. Secretamente,
um grupo de 500 deles se reúne em uma região desértica para uma aventura
inédita e arriscada: lançar um foguete para atingir as estrelas.
Silverberg
comenta na história que os romanos tinham cogitado atingir o espaço sideral,
mas desistiram, menos por dificuldades tecnológicas, e mais por falta de
objetivo econômico e, principalmente, claro, político, já que eles não tinham
rivais para se preocuparem.
“Rumo à Terra
Prometida” é uma história emocionante, tanto pelo desafio, como pelas
consequências em um mundo que jamais conheceu uma alternativa religiosa ou
política. Silverberg termina a história – e por efeito o livro – de forma
crítica, utilizando o exemplo da aventura espacial como uma fuga dos grilhões
da Pax Romana e pela esperança de que num outro mundo seria possível,
viver com liberdade e igualdade entre os povos.
Roma Eterna
reúne um conjunto de histórias instigantes, com a visão aguda e sensível de um
dos principais autores da ficção científica, colocando a obra como uma das
melhores referências recentes no subgênero da História Alternativa. E que pode
ser apreciada tanto pelos aficcionados, como por leigos ou curiosos pela parte
mais contra-factual dos eventos históricos. Seja qual for o interesse do leitor,
o prazer da leitura está garantido.
Marcello Simão
Branco é autor de Os Mundos Abertos de Robert Silverberg (Edições
Hiperespaço, 2004).